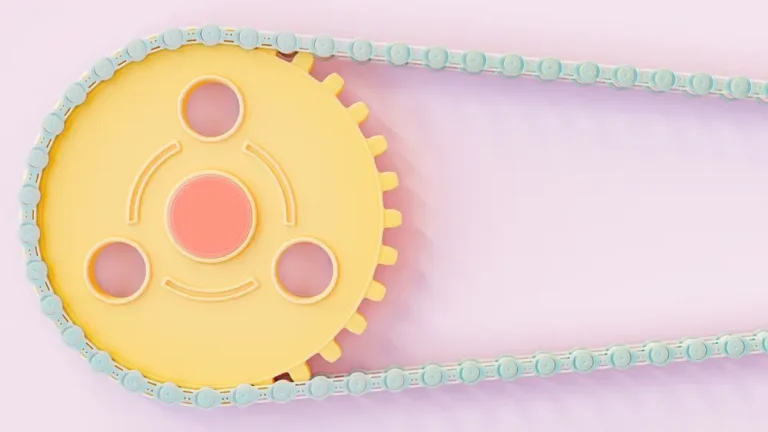Cargill, Bunge e Minaplast. Além de negar entrevista, o que essas empresas de ramos diferentes entre si têm em comum? De forma involuntária, elas servem para desmascarar no Brasil o mito, em demolição mundial sem estardalhaço, do plástico biodegradável como solução para o desenvolvimento sustentável. “Podemos classificar esse material como uma iniciativa frustrada que decerto serviu de aprendizado para o setor plástico global”, reconhece Maurício Groke, presidente da consultoria de gestão e negócios Integrale, ex-presidente do conselho da Associação Brasileira de Embalagens (Abre) e ex-diretor comercial da convertedora de flexíveis Antilhas.
Cargill, Bunge e Minaplast. Além de negar entrevista, o que essas empresas de ramos diferentes entre si têm em comum? De forma involuntária, elas servem para desmascarar no Brasil o mito, em demolição mundial sem estardalhaço, do plástico biodegradável como solução para o desenvolvimento sustentável. “Podemos classificar esse material como uma iniciativa frustrada que decerto serviu de aprendizado para o setor plástico global”, reconhece Maurício Groke, presidente da consultoria de gestão e negócios Integrale, ex-presidente do conselho da Associação Brasileira de Embalagens (Abre) e ex-diretor comercial da convertedora de flexíveis Antilhas.
O ponto de partida para esse desnudamento chama-se ácido polilático (PLA), o plástico biodegradável sem similar local e o mais produzido e conhecido no planeta. Verbete agro norte-americano, a Cargill desenvolveu em 1993 o uso como resina de PLA, polímero obtido de açúcares fermentados de alimentos como milho, leite e batata, atesta Stephen Fenichell no livro “Plastic-The Making of a Synthetic Century”. Na realidade, ele nota, PLA remonta a 1833 como material de suturas, condição na qual causa sensação hoje em cirurgias estéticas no Brasil, a exemplo da sua presença em fios de sustentação para operações de lifting facial. Resumindo a ópera, o experimento da Cargill convergiu para a constituição nos EUA da Nature Works, hoje uma joint venture da companhia norte-americana com a tailandesa PTT Chemical Global, controladora da dita maior capacidade instalada de PLA no mundo, 140.000 t/a.

Os primeiros termoplásticos, retoma o fio Fenichell, foram formulados a partir de celulose. Henry Ford produziu resinas com base na soja e, nos anos 1920, alemães fizeram o mesmo com sangue de boi. Desses primórdios aos materiais hoje na berlinda, caso também do polihidroxialcanoato (PA), os biopolímeros escorregaram na casca da banana da escala e custo diante das resinas de fontes fósseis e acabaram, assim, restritos a embalagens de artigos de nicho, uma migalha sem efeito prático na mesa do desenvolvimento sustentável. Não foi por outra razão que, por exemplo, a badaladérrima usina de bioplásticos americana Metabolix sangrou no balanço e disse adeus em 2016.
O negócio dos plásticos biodegradáveis faz paralelo com os enigmáticos e complexos mercados financeiros. Seus investidores, já se disse, precisam acreditar que há uma base racional para os preços dos produtos que compram, mesmo que isso constitua um ato de fé. Devota dessa crença, a Cargill tocou a buzina em 2009 para alardear o plano de vender no Brasil PLA trazido da coligada NatureWorks, importação falecida em silêncio em 2013, informa sua assessoria de imprensa. Também em 2009, a Bunge trombeteou a chegada por aqui de sua margarina premium Cyclus Nutrycell em pote biodegradável de PLA, recipiente desativado sob mutismo absoluto. Já o site da transformadora catarinense de descartáveis Minaplast ainda posta o anúncio dos finados – sem choro nem vela – copos transparentes Green, de PLA, sob o slogan “o copo mais compostável do Brasil”. É a biodegradação da fé.
Groke justifica esse tiro pela culatra com uma conjunção de mal entendidos e dúvidas pendentes. “A percepção do consumidor sobre o posicionamento da embalagem ‘ecologicamente correta’ é muito distorcida e confusa”, ele considera. “O conhecimento tem melhorado, mas continua muito longe do ideal”. Embolado nessa desinformação, amarra o consultor, PLA foi oferecido, em sua introdução há bom tempo, como a solução então ambientalmente mais correta, por ser compostável, biodegradável, de fonte renovável etc etc. “Esqueceram que esses atributos são interessantes para outra realidade de mercado, na qual o resíduo orgânico é compostado e reutilizado”, comenta. Além disso, ele engrossa o caldo, PLA sofreu ataques de estudos e tendências sobre contribuições ao meio ambiente. “Um dos fatores do seu insucesso foi o custo/ preço muito alto, erradamente subsidiado e insustentável a longo prazo”. Também pesaram contra, completa Groke, a probabilidade de descaso generalizado para com o destino da embalagem pós consumo de PLA, sob a premissa de que a biodegradação anularia os danos de seu descarte incorreto, e o sofisma de que a produção de bioplásticos desviaria áreas agrícolas da geração primordial de alimentos. A propósito, não se sabe no sarado agronegócio brasileiro de quem tope investir na geração de bioplástico lá na ponta do seu plantio, para duelar depois com as resinas petroquímicas. O único ensaio nesse sentido foi o natimorto projeto bradado em 2012 pela Sementes Guerra, potência em milho do Paraná.
Se os bioplásticos seriam um modismo ecológico ou um equívoco comercial, trata-se para Groke de elucubração secundária perante a vida real. “Do lado positivo, aprendemos muito com todas as iniciativas ambientais decepcionantes e já sabemos não haver uma solução melhor e única, mas várias delas adequadas a cada circunstância e interligadas num sistema conjunto”, ele pondera. “Hoje em dia, já passamos para a teoria da Economia Circular, pela qual não basta apenas analisar o ciclo de vida de um produto, mas sua interação e impacto em toda a cadeia”. Amarrando as pontas, ele reitera que, sejam plásticos de origem fóssil ou renovável, daqui para a frente terão espaço todas as propostas pró-ecossistema, “mas não de forma individual e única”, afirma. “O desafio é saber aplicá-las e discernir quais benefícios serão percebidos pelos consumidores”.

À margem do preço indigesto, nota Groke, uma lacuna em aberto no poder público retém os plásticos biodegradáveis no tédio da retórica verde no Brasil. “Enquanto não tivermos usinas de compostagem para transformar resíduo orgânico em adubo, as iniciativas de bioplásticos não devem prosperar em embalagens”, condiciona o conhecedor. Pela sua linha de raciocínio, o sucesso do material pode vingar a tiracolo do crescimento da demanda por alimentos orgânicos, movimento já em curso, mas com timidez. “Mas trata-se de uma lenta tendência mundial de longo prazo, pois substituir adubo químico orgânico implica encarecimento e menos produtividade no campo”.
Na foto atual, lamenta Groke, o Brasil convive com lixões contaminadores do lençol freático e emissores de gases letais para a camada de ozônio. Trata-se de uma coexistência na marra, sem final feliz por perto. “Cerca de 3.300 prefeituras ainda utilizam lixões para destinar os resíduos domésticos e o prazo para erradicá-los dado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) venceu há dois anos”, declarou na mídia Carlos Fernandes, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre).
Quando aprovada sete anos atrás, a PNRS determinava o encerramento dos lixões até 2 de agosto de 2014 e sua substituição por aterros sanitários. A exigência foi ignorada, razão para o surgimento do Projeto de Lei 2289/2015, homologado pelo Senado e a sono solto na Câmara dos Deputados. Ele prorroga até 31 de julho do ano que vem o prazo para capitais e regiões cumprirem a lei. Para municípios com mais de 100.000 pessoas, o prazo máximo é 31 de julho de 2019; para cidades com população de 50.000 a 100.000, 31 de julho de 2020 e, para aquelas abaixo dessa faixa, 31 de julho de 2021.
Estudo da Associação Brasileira de Limpeza Pública (ABLP) orça na casa de R$5,8 bilhões a construção dos aterros sanitários necessários no país, com custo operacional da ordem de R$2,6 bilhões ao ano. O problema, sintetiza Carlos Fernandes, é a situação fiscal crítica de 80% das cerca de 5.600 prefeituras brasileiras. Aferição da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) calcula que quase 50% dos prefeitos legou débitos pendentes aos vencedores das eleições em 2016 que os sucederam. No embalo, a perenidade dos lixões, forçada pelo poder público na pindaíba, põe em xeque a tão paparicada reciclagem. Afinal, do ponto de vista ambiental, de que adianta ela esticar a vida útil do plástico se não há outro destino final para o refugo irrecuperável além de jazer a céu aberto e sobrevoado pelos urubus nos lixões?
Até segunda ordem, a PNRS lembra um plástico biodegradável em forma de jurisprudência. •